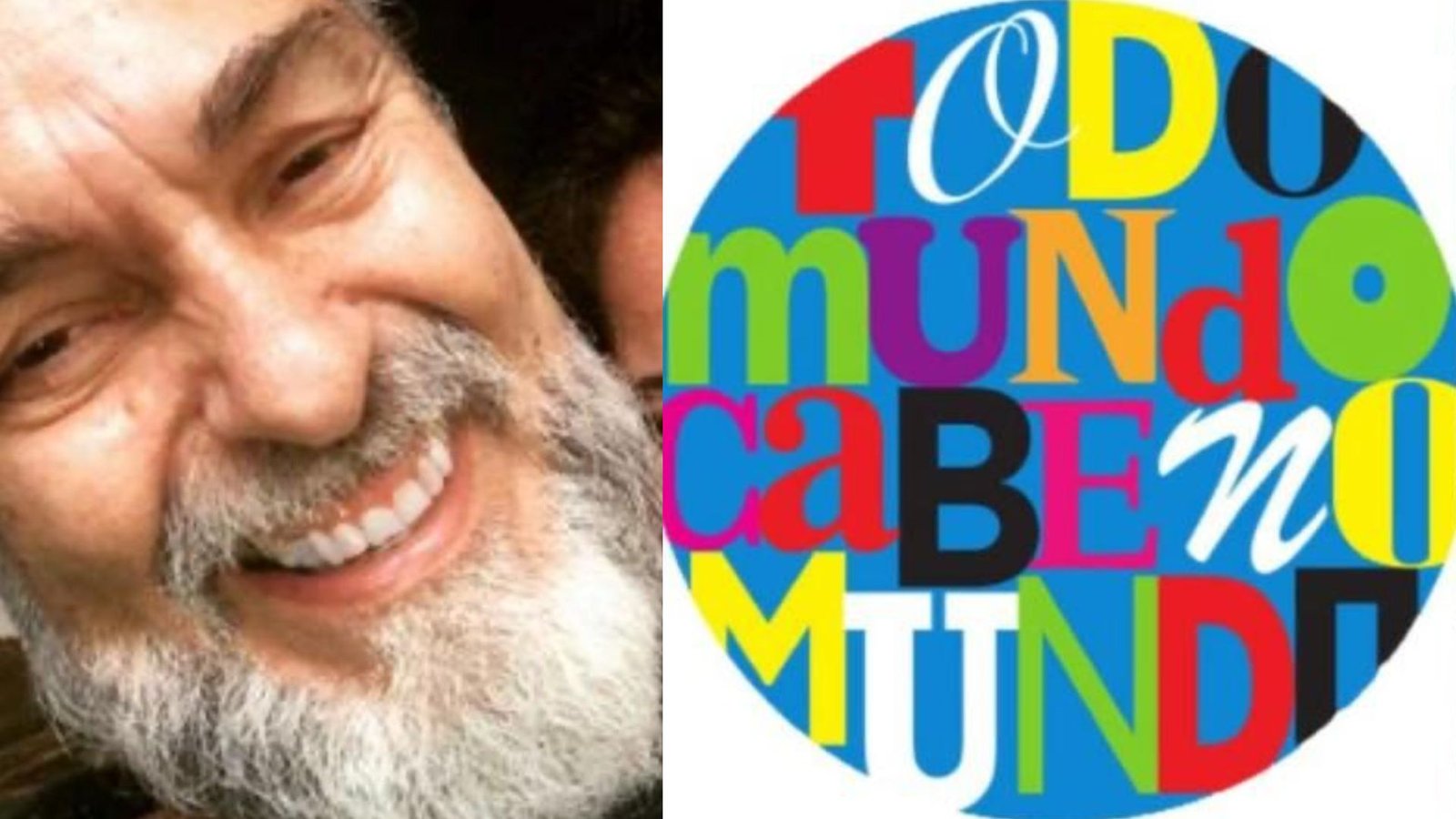No pé de laranja-lima
Junto à montanha as galinhas dormiam empoleiradas nos galhos de um pé de laranja-lima. Entre elas havia uma diferente. Ela se acostumara com o espaço de tempo que permanecia dormindo e, também, com o espaço de tempo que andava pelo mato. Tanto é assim que no dia do eclipse do sol, todas as galinha, às dua da tarde, foram para seus poleiros, exceto a que se acostumara com os espaços de tempo. E quando o sol parou no horizonte, apenas a galinha diferente foi para o poleiro. As outras permaneceram pelo mato até que o sol voltou a se movimentar e se escondeu.
Um dia essa galinha ficou cega. Mas como durante todos os dias de sua vida havia subido para o mesmo galho do pé de laranja-lima, a falta da visão não lhe impediu de continuar dormindo no seu poleiro. E na hora em que o sol despontava, ela, que se acostumara com os espaços de tempo, subia para seu galho.
Veio o progresso e os homens, construtores de estradas, cortaram o pé de laranja-lima.
Ninguém avisou à galinha cega que haviam cortado a árvore do seu poleiro. E é por isto que ao pé da montanha, à margem da estrada, pode-se ver entre o pôr e o nascer do sol uma galinha no ar, dormindo em sua poluição empoleirada.
Autor: Oswaldo França Júnior (1936 – 1989)
Os Augusto Martins e os Bonicchelli

A saga da família de minha mãe começa com uma tragédia digna de novela das seis.
Meu bisavô, Antonio Augusto, era português de sotaque carregado e coração valente. Casado com Maria Rosa, viviam em Uberaba, Minas Gerais, onde mantinham uma “venda”, aqueles armazéns que vendiam de tudo, e criavam uma prole numerosa — da qual fazia parte meu avô João Augusto.
Numa tarde de domingo, Antonio saiu para cobrar uma dívida. Segundo os relatos, o devedor era um baiano recém-chegado à cidade. O bisavô, ao que parece, foi duro nas palavras. O baiano, que não gostou do “sabão” que levou, resolveu lavar a honra com pólvora: tocaiou Antonio e lhe deu um tiro pelas costas, encerrando ali a trajetória do varão da família.
Minha bisavó, então, viu-se viúva, com filhos pequenos e uma “venda” que não sabia tocar. Desfez-se do comércio e foi trabalhar como lavadeira no seminário de padres. A vida, que já não era fácil, resolveu testar ainda mais sua resistência.
Mas dizem que do limão se faz uma limonada — e, no caso da família, fizeram foi um pomar inteiro. Enquanto lavava roupas, os filhos aprendiam com os seminaristas a ler e escrever, coisa rara e preciosa naqueles tempos.
Um dia, passou por Uberaba o Coronel Arthur, figura marcante — fazendeiro de Jaborandi, em busca de gente para a lida do café. Meu avô João, já jovem e assumindo a liderança da família, topou a empreitada. E lá foram todos os seis, minha bisavó e cinco filhos, para a Fazenda Brumado, em Jaborandi.
Durante o dia, João trabalhava na roça. À noite, virava mestre: ensinava os colonos a ler e escrever, usando carvão como caneta e lampiões como sol. O Coronel, impressionado com a habilidade do rapaz, chamou-o para uma conversa. Descobriu que João escrevia e lia com perfeição e, sem pensar duas vezes, nomeou-o guarda-livros da fazenda. Já minha bisavó, que sabia temperar a vida com coragem e alho, foi ser cozinheira na Casa Grande.
E assim, entre tragédias e superações, começou a história dos Augusto Martins — com carvão, coragem e um punhado de letras.
ONDE O CAFÉ ENCONTRA A PADARIA: A ORIGEM DOS AUGUSTO MARTINS
Já em Jaborandi, depois de algum tempo de suor e sol na roça, meu avô decidiu trocar a enxada pelo balcão. Abriu um comércio na cidade, abandonando a vida rural com a dignidade de quem já havia colhido muito mais do que café. O Coronel Arthur, homem de prestígio e simpatia, gostava tanto da família que acabou virando sócio do meu avô no negócio de café. E assim, entre sacas e xícaras, nasceu uma parceria que misturava respeito, grãos e confiança.
Na mesma cidade, uma família de italianos, chegada de Pietra Santa, distrito de Lucca, na Itália, começava sua história com farinha e fermento. Eram os Bonicchelli. O patriarca, Silvestre Bonicchelli, e sua esposa, Theodora Puccinelli Bonicchelli, abriram uma padaria e, com ela, o apetite da cidade. Tinham um punhado de filhos — como toda boa família italiana — e entre eles estava Luiza Bonicchelli, aquela que viria a se casar com meu avô.
Do casamento de João Augusto com Luiza Bonicchelli nasceu a família Augusto Martins: Almerinda, Ivo, Ataíde, minha mãe Hilda, João, e, por fim, Iva, a caçula. Uma escadinha de nomes e histórias que se entrelaçam como massa de pão bem sovada.
Meu avô, homem das letras e da lida, fez o possível para formar os filhos da melhor maneira que pôde. Minha mãe, depois de formar-se no curso normal, queria ser médica — sonho grande para uma moça de cidade pequena — mas meu avô, com seus medos e moral de época, vetou a ideia. “Moça solteira na cidade grande, sem alguém para vigiar? É o fim!”, pensava ele, com a convicção de quem lia muito e confiava pouco.
Mas minha mãe era feita de outra massa. Rebelde, determinada e com um tempero próprio, resolveu desafiar o destino e o pai. Candidatou-se a vereadora, representando Jaborandi na Câmara de Vereadores de Colina. E foi lá, entre discursos e sessões, que cruzou com meu pai — também vereador, também teimoso.
No dia 3 de setembro de 1950, casaram-se. E dessa união nasceram quatro filhos: Moacyr Júnior, João Alberto — eu, carregando com orgulho o nome dos dois avôs — Marília e Júlio César, o caçula.
E foi assim, entre café, padaria, cereais, polenta, política e polêmica, que começou a minha história.
Autor: João Vizzotto
Quando ela foi embora

Sento-me próximo à janela, onde conversávamos sobre os pequenos assuntos do dia. O resto do café continua no fundo das xícaras. Não sei quantos dias, meses, ficávamos nesta varanda. Então, desapareceu. Foi embora. Na casa tudo continua igual, mas diferente. Onde ela estaria, enquanto solfejo a canção que ouvíamos às tardes?
Não consigo entender. Saiu com o vestido de domingo, estampado, flores pequenas vermelhas, verdes e azuis sobre fundo branco, grandes botões pretos e saia rodada. Fiquei encostado na porta, ela sumindo, até sair do tempo. Várias palavras estavam guardadas, mas nenhuma foi usada. Ficaram inertes, sem oportunidade de recompor a história.
Talvez nem ela sabia o motivo, o porquê da hesitação pegajosa se espalhar nas peles, enquanto o desentendimento avançava por dentro, em silêncio. Gostava do modo como retribuía um agradecimento, falando “dê nada”, com o “e” fechado, e várias outras expressões, na época em que funcionava o entusiasmo. Sabíamos apenas das migalhas de pão caindo no pires da xícara e não percebemos movimento diferente nas profundezas. Até o dia conturbado, quando a indisposição chegou à superfície, utilizando práticas inéditas. Como ação de exército estranho em cenário que não era o nosso. Não vimos o inimigo comum agir sorrateiramente, sentado na mesinha, o inimigo e seu fuzil sobre os joelhos, aguardando os vacilos para conduzir-nos, através de topografia acidentada, até às sensações tóxicas, que nunca haviam se manifestado naquelas bandas. Instalou-se a incerteza nas manhãs estéreis. Nossa vida não estava ali, não sabemos para qual lugar ela se encaminhara.
Os antigos rituais foram substituídos pela vigília de aguardar inutilmente algum aviso. As árvores em volta, as flores do seu jardim, continuam preservadas de alguns sinais que não chegaram até a elas, ainda. A calma aparente induz a imaginarem que continua a celebração dos momentos de um e de outro, como se fossem um só.
O meu sonho não é mais possível, faltam-lhe as centelhas de alegrias outrora usadas como matéria prima. Para sonhar, além da noite, são imprescindíveis beijos, vontade de dançar, passar as mãos nos cabelos soltos. Ingredientes recolhidos nas coisas simples espalhadas pelo afeto. Coisinhas como brisa leve, vinda de um pedaço do céu.
No varal um vestido permanece preso, esquecido na pressa da sua dona.
Caminhávamos juntos, mas a paixão não teve fôlego para acompanhar. Quando tentamos voltar ao passado, para reaprender, o sentimento não estava mais. O passado não conseguiu chegar aonde o sentimento estava. Talvez porque a emoção houvesse secado, como a árvore sem a seiva. E o presente se estagnou, conformado em aguardar a volta cada vez mais incerta. As horas se amontoam sem orientação. Em alguns momentos elas tentam retocar as cores de outrora mas, incapacitadas, se recolhem para as frestas do tempo. O lugar ficou escuro. Escuro como a imagem que não sou. Preciso de outro padrão. Enquanto o novo modo de viver não chega, a única companhia é o som da geladeira.
O nosso segredo já não serve para nada, perdeu a função de existir, quando não foi mais possível ser compartilhado. De que vale um segredo de uma só pessoa? Ele não funciona como segredo pois se transformou em lembrança, apenas. A mesma palavra com muitos significados.
Um dia sua chegada será antecedida pela canção anunciando que brisas suaves balançam as flores. A felicidade, como o infinito, não pode ser medida. De uma só vez nos leva às regiões sem fim. Ocupa todas as recordações, impregnadas da sua presença.
Então, como um cego que volta a enxergar, enxergamos a eternidade. O tempo da eternidade. Quando uma alma se junta a outra alma.
Perto das estrelas
minha alma serena
se distancia
em outras direções.
Mas ainda tento
fazer minha alma
voltar para mim…
Autor: Francisco França
Memória

Estou aqui em casa, a sós.
Aqui estão os móveis, o ar, os ruídos.
Tenho um sentimento tão transparente
como o vidro de uma janela.
É como a janela em que olhava quando era menino,
e colava o rosto no cristal
e compreendia toda a vida.
É um desejo em calma, como a tarde.
É estar como estão todas as coisas.
Ter um lugar, como tudo que está na casa.
Permanecer o tempo que seja, como as coisas.
Não ser mais nem melhor que elas.
Ser apenas, no meio da minha vida,
parte do silêncio de todas as coisas.
Autor: Carlos Montemayor