Os antigos romanos acreditavam que em cada lugar, habitado ou frequentado pelo homem, havia um ritualisticamente reverenciado genius loci, expressão latina que indicava a presença de um guardião, uma força da natureza, um espírito do local, que lhe conferia determinados atributos e peculiaridades e, assim, o definia e caracterizava. Por séculos, ao longo do desenrolar dos processos civilizatórios, as inovações, de um modo geral, aconteciam em ritmo compatível com a capacidade de entendimento e assimilação por sucessivas gerações, mantendo-se, portanto, preservado o genius loci, possibilitando, dessa forma, uma coexistência simbiótica entre o estabelecido e o novo.
A partir da revolução industrial, a incorporação de alterações na paisagem urbana e na arquitetura das edificações, como resposta ao surgimento de novas necessidades, começou a ganhar cada vez mais relevância, gerando preocupação quanto a perda da identidade do lugar.
Face a essa realidade, estudiosos da teoria da arquitetura foram levados à proposição de formas e métodos de se entender, abordar e preservar as singularidades e o aspectos próprios das ocupações territoriais. Na segunda metade do século passado, o arquiteto norueguês Christian Norberg-Schultz adotou o conceito romano de genius loci para referir-se a uma abordagem fenomenológica do ambiente. De acordo com esse enfoque, a concepção abrange o conjunto de manifestações sociais, religiosas, culturais, históricas, arquitetônicas, urbanísticas, tecnológicas, econômicas, de linguagem, de hábitos, de costumes, ou seja, a tudo aquilo que conforma, personifica e dá caráter a um lugar, a uma comunidade, a um ambiente, a uma paisagem, a uma cidade, ou mesmo a uma região.
Por sua vez, o arquiteto italiano Aldo Rossi utilizou-se desse entendimento para recomendar, em vista de intervenções futuras, o estudo, a análise e a consideração das características do local e seu entorno, de modo a obter resultados mais harmônicos com o ambiente em que serão inseridas.
Mais recentemente, na década de 1990, o etnólogo e antropólogo francês Marc Augé atribui ao que ele denomina supermodernidade –fenômeno que, em sua visão, marca o nosso tempo—, o surgimento das principais e mais radicais transformações na relação espaço e sociedade. O autor, em conformidade com a abordagem da geografia humanista, define lugar como o “espaço vivido, do cotidiano, carregado de afetividade e memória, portanto, dotado de características identitárias, culturais e históricas”. Em oposição a esse conceito, cunhou o termo não-lugar, dimensão não identitária em que não se consegue estabelecer vínculos relacionais. O autor teve o cuidado de pontuar que as categorias de lugar e não-lugar não existem de forma absoluta, devendo ser entendidas como polaridades, em que o primeiro não é totalmente apagado e o segundo nunca se realiza totalmente.
Pode ocorrer, no entanto, um determinado momento em que a substituição do antigo pelo novo, ou melhor dizendo, do lugar pelo não-lugar, alcança uma proporção capaz de desfigurar e precarizar o que prevaleceu por muitos anos. Nessas circunstâncias, sobrevém uma ruptura com os valores tangíveis e intangíveis, expressos pelos modos de ser, saber e fazer da tradição vigente até aquele período histórico. Perde-se, em tal conjuntura, as referências capazes de estimular a memória das pessoas atavicamente vinculadas ao lugar e, consequentemente, compromete sua identidade cultural.
É importante observar que não se preconiza copiar o antigo que, por motivos diversos, se perdeu, em uma improdutiva tentativa de se criar um arremedo de realidade pretérita, ou de qualquer sorte de pastiche, com objetivos, quase sempre, escusos. Reconhece-se que novas intervenções são necessárias, mas essas serão melhores recebidas na medida em que se agreguem, em sintonia e acordo, ao meio do qual farão parte.
Na acepção da antropologia, lugar é local de pertencimento, em que o sujeito se reconhece e se identifica, individual ou coletivamente, tem raiz e vivência. Em contraposição, os não-lugares são vazios de sentido para aqueles que o ocupam, transitam ou habitam. Em seu aspecto urbano, ou arquitetônico, representam uma expressão estandardizada, provisória, estéril e efêmera, voltada ao modismo, por desconsiderarem as significâncias dos lugares em que se incluem, além de concorrerem para a fragilização das experiências interpessoais.
A supermodernidade, em sua perspectiva da superaceleração, intensifica os processos sociais, culturais e tecnológicos –característica da sociedade contemporânea—, induzindo a uma percepção de mudanças frenéticas, dinâmicas e constantes e, ao mesmo tempo, mutante e transitória. Tal movimento pode resultar em uma sobrecarga de informações, dificultando a sua devida compreensão e absorção, contribuindo para um cenário de incertezas e instabilidade. Um ambiente físico ou social que seja percebido como inseguro ou hostil desencoraja o pertencimento ao criar sentimentos de ansiedade ou desconfiança por parte seus membros.
Essa intricada ocorrência, se atinge globalmente a tudo e a todos, em maior ou menor intensidade, mostra sua face mais perversa no que tange as pequenas cidades, naturalmente mais vulneráveis, desprotegidas e carentes de recursos de toda espécie. Ali, seja pela falta de instâncias reguladoras, ou por excessos de iniciativas individuais sem intermediação, ocorre uma rápida desestruturação física das construções e dos assentamentos urbanos originais, em decorrência da produção incessante de não-lugares, com objetivos imediatistas, privilegiando somente o consumo, e com os quais a comunidade mantém relações meramente supérfluas e transitórias.
Devo admitir que as reflexões aqui expostas, de modo simplificado, dizem respeito a um apanhado de diferentes temas correlacionados, complexos em suas respectivas concepções, sobre os quais não tenho domínio suficiente para firmar convicções. Nem é essa a intenção. Longe disso, se me permitem, apenas gostaria de sugerir que tais ponderações preliminares, talvez, possam orientar, sem concessões sentimentalistas, um olhar mais atento e objetivo sobre o que aflige negativamente, de um modo geral, a todas as cidades, e, em especial, a Peçanha, nosso estimado lugar de pertencimento. Ressalte-se que o mais importante seria que cada um de nós nos esforçássemos em pensar o que fazer no sentido de minimizar os efeitos deletérios que violam tanto as nossas referências de identidade mais autênticas e profundas. Do contrário, devemos estar preparados para admitir que nos resta o vazio, resultante de tantas perdas.
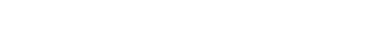




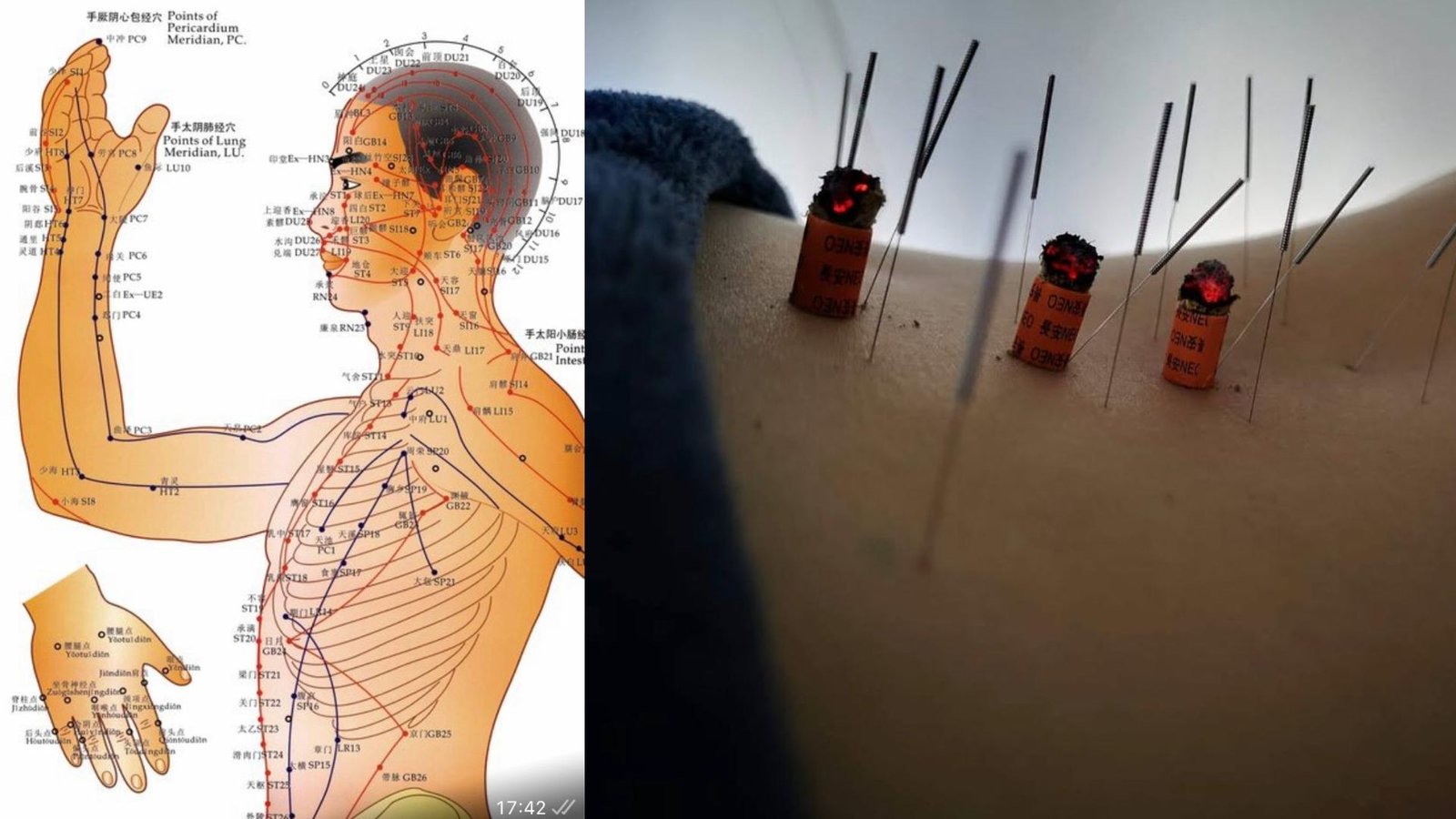




Respostas de 5
Faz uma reflexão precisa sobre a calamidade imposta às cidades. Fornece elementos para que possamos entender os motivos da bagunça.
Muito bom Lu!
Excelente artigo, Lu, a afirmação romana do Genius loci é realmente muito importante, muito verdadeira, a Doutrina Espírita, através de Alan Kardec explica o fato. Efetivamente existem os Espíritos que são guardiões de certos lugares e até mesmo de certos fenômenos da Natureza. No livro “Os últimos seis dias de Jesus” há uma passagem quando uma tempestade atingiu o barca de Jesus e este dormia. Os apóstolos o acordaram e ele ordenou ao vento que parasse. Posteriormente, em terra, questionaram a Jesus como Ele fizera aquilo, ao que ele explicou ter ordenado ao Espírito do vento que cessasse a ventania. Esse fato vem de encontro à afirmação romana magistralmente descrita por você, Lu.
Olá, Mauro
Agradeço-lhe pelas palavras gentis.
Um abraço
Boa noite! Gostei muito, aprendi muito com a partilha dos seu saber, e você com vasto conhecimento, engrandece a cada leitor. Sou também Peçanhense feliz com a cidade maravilhosa.