E como ficou chato ser moderno. Agora serei eterno.
(Carlos Drummond de Andrade)
Há muito tempo não conversamos sobre as questões pelas quais vivemos. Tanto acontecimento atrapalha o que realmente interessa. O tempo de convivência permite falar sem preocupação com o juízo das pessoas. Já aparou todas as quinas. Não há necessidade de ser interessante, se mostrar como pessoa de sucesso, que se deu bem. Dizer frases que impressionam ou apresentar as novidades para se proteger das censuras. Resta somente a impressão calma de que estamos bem, da forma como estamos. O que tiver de ser, será.
No café forte há vestígios de outros encontros. O pedaço de broa traz antigas conversas. Nenhum sinal de arrependimento. A recordação parece um rio que a tudo carrega. Muitas vezes junto ao material trazido pela enchente há outras coisas, como arrependimento. Mas não é o caso entre nós.
Apenas repartimos o que sobrou. Você sabe o que sei. Entende claramente o que falo, como se ambos partilhassem do mesmo sentimento. Caminhamos até a janela e olhamos com atenção a paisagem à frente. Tão nítida, como na época em que compreendemos tudo. A paisagem parece se descolar e remeter àquelas guardadas dentro de si mesmo. Voltamos aos momentos em que, através das frestas, vislumbramos o Eterno. As marcas que se acumulam e fazem cada pessoa ser única, cada dia o auge da sua vida. As experiências deixaram sinais indeléveis, como os que estamos falando neste momento. E dotaram a nossa alma de material duro, adequado para resistir às intempéries que certamente viriam. Afinal, depois de tudo, ainda conversamos.
Chegávamos das aulas, trocávamos rapidamente o uniforme para não se atrasar, café com leite de rapadura e farinha de milho e logo já estávamos na pracinha da igreja, com as bicicletas. No fim de semana anterior passamos a tarde aplicando os decalques, comprados junto do material escolar. Colocava a folha dentro de um prato com água, separava cuidadosamente, colava nos paralamas e passava um pano para não enrugar. Bicicleta sem decalque era como chupar bala com o papel. Todos se encontravam lá. Havia época em que o sol parecia estacionar atrás do Morro Redondo e espalhava uma cor alaranjada pelo céu. O bando de andorinhas fazia circunvoluções, como um balé. As cigarras cantavam sem parar e, às seis horas, batia o sino da igreja, como um dueto. Mais tarde ainda iriam aparecer os vagalumes, estrelas na terra. Que nunca contávamos, para não aparecer verrugas nos dedos. Em algum momento as empregadas chegavam para avisar que estava na hora do banho. Não havia contestação. Elas eram suaves, mas ficavam bravas se necessário. Mais do que as nossas mães.
Depois do banho e do jantar, havia um tempinho para conferir os álbuns de figurinhas com o Cláudio e o Fernando. Lembro-me do dia em que no meu álbum faltavam as figurinhas somente do Canhoteiro e do Joaquinzinho para completar as folhas do São Paulo, do Fluminense e fechar tudo. Pura sorte, nos pacotinhos que eles compraram no Sávio Gandra vieram as duas figurinhas. Nem acreditamos, enquanto colávamos. Sem trocas, pagamentos ou favores, a recompensa dos dois era a alegria de completar o álbum. Não importava se era o meu álbum. O arrepio dos cabelos do Cláudio, na parte direita da testa, devido ao redemunho, se estendeu para o restante da cabeça. Os do Fernando não arrepiaram, mas a alegria genuína era de todos. Assim era a vidinha.
Junto ao mês de maio chegavam as coroações. Um grande altar construído em frente à Igreja, imagem de Nossa Senhora no meio, rodeada pelos anjos. Vestidas de cetim, asas de penas naturais, tiara na cabeça, despertavam enorme ternura no grande número de pessoas que assistiam. O cortejo começava na casa da garota que oferecia a coroa e seguia depois da distribuição dos cartuxos, pérolas açucaradas envolvidas em papel de seda. Tudo parecia transportar para outra dimensão. Momentos que desligamos das questões daqui, absorvidos pelo devaneio.
Mãezinha do céu, eu não sei rezar
Eu só sei dizer: Eu quero te amar
Azul é seu manto, branco é seu véu
Mãezinha eu quero te ver lá no céu
Mãezinha eu quero te ver lá no céu
No final do ano, já de férias, ajudávamos a montar o presépio da minha tia. Percorrer os pastos à procura de areia branca para formar as ruas. Marcenarias para as serragens, que tingidas de verde seriam os gramados e marrom as estradas de terra. Grude espalhado nas folhas de jornal, salpicava carvão moído para formar as montanhas. As luzes piscavam dentro da gruta onde ficava o Menino Jesus, seus bracinhos abertos como nos esperando para brincar. Os pescoços dos bichos eram separados do resto do corpo, presos por um fio de metal. Assim, eles se movimentavam livremente, como se estivessem vivos, ajudados pela nossa imaginação. O presépio nos fascinava com a absoluta falta de compromisso a uma lógica coerente, à estética oficial. Naquele território não prevaleciam as regras de uma realidade sem imaginação.
Depois de tudo, hoje percebemos como é difícil dizer adeus ao que fomos e, em alguns aspectos, ainda somos. O Paraíso Perdido, de John Milton. Não totalmente perdido, porque as lembranças o mantêm vivo, exatamente como as paisagens que retornamos durante a nossa conversa.
O paraíso continua vivo na parte de nós que, se modificada, nos transformaria em outra pessoa. A parte que nos permite sonhar. O sonho é realidade passada a limpo. A realidade como deveria ser. Delimita o mundo a partir da nossa parte imutável. Um mundo construído só para nós.
Está na hora de encerrar a nossa conversa de hoje. Caminhamos novamente até à janela e a paisagem ainda não é a do quintal, pois figura os episódios acima. Os episódios que saíram da vida e se acomodaram no Eterno de cada um.
(*) Esta crônica está no livro “Trilha Sonora das pequenas coisas grandes” à venda nas livrarias da Savassi ou pelo site www.editoraramalhete.com.br e reproduzimos aqui pela referencia ao Presépio.





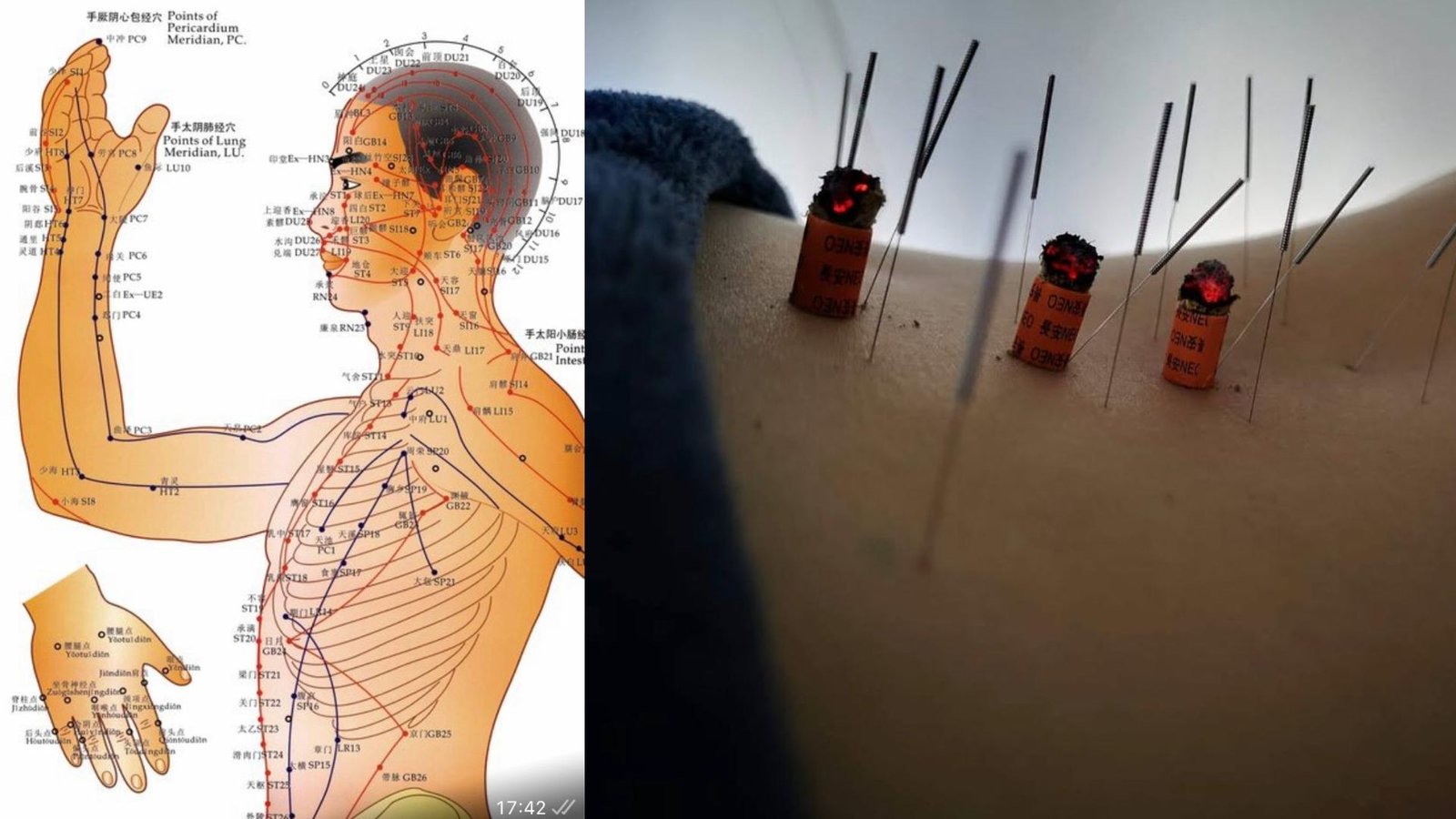




Respostas de 3
Eis que o passado abre as pálpebras e aguça os sentidos, revelando histórias tão parecidas, quase exatas: doses de afeto ,servindo café com leite e broa; as cigarras cantavam na serra, sinalizando sol na terra; a família envolvida na montagem do presépio.
Não foi dito, mas desconfio de que os tecidos do uniforme eram da mesma loja.
“No fino algodão
de sua roupa
leva o homem
restos de si mesmo.”
(Ângela L. de Souza)
Repartir o que sobrou é compartilhar a aragem de uma saudade doce e pura.
Seu comentário é outra poesia Heloisa
Como a Odette disse, a Heloísa continua trazendo poesia para nós, depois do seu texto mágico.